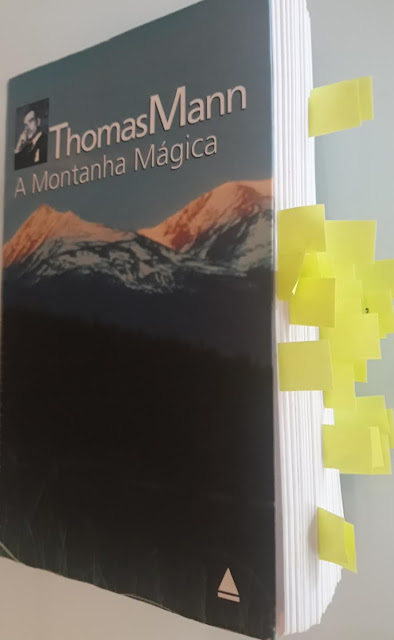MAR DE ROSA
Texto: Ney Cayres
Um dedo de prosa não faz mal a ninguém. E de poesia também! Prosa e poesia formam desde sempre caminhos em paralelas. Na criação, no primeiro momento alimentam-se da mesma seiva. No seu destino, na sua separação, como seres univitelinos, levam consigo para sempre as suas origens, as suas matrizes, as suas confluências...
João Guimarães Rosa iniciou sua carreira de escritor com poesia, - Magma-1936-, que ganhou o prêmio da Academia Brasileira naquele ano, e só foi publicado post mortem pela Editora Nova Fronteira.
Dez anos depois desse prêmio outorgado pela “casa” de Machado de Assis, considerado o maior escritor da literatura brasileira do século dezenove, Rosa publica o seu primeiro livro de contos, Sagarana, iniciando assim uma renovação na literatura brasileira, culminando com o enigmático, magnífico Grande Sertão: veredas, o qual mencionarei mais adiante.
Sagarana, cujo título advém da junção do radical de origem alemã ‘saga”, canto heroico, e “rana”, palavra que vem do tupi indicando semelhança, proximidade, então algo assim como o simulacro de uma saga, Sagarana possui nove contos, para ser preciso. Dentre os quais destaco O Burrinho pedrês e A hora e a vez de Augusto Matraga. Dois contos de atração extraordinária, nos quais Rosa insere o falar, a oralidade e o cotidiano do sertanejo, as bases fundamentais para o seu trabalho futuro. Especialmente, A hora..., que foi levado ao cinema, ao teatro e motivo de documentários e várias teses.
Novamente, dez anos depois de Sagarana, portanto em 1956, ele publica o seu opus magnum, sem sombra de dúvida, o Grande Sertão: Veredas. Aqui neste mar, Rosa nadou de braçadas! Aqui, emergiu de sua profunda veia criativa a prosa rosiana, transformadora e sedimentada lá atrás nos seus primeiros contos. Pois ele nasceu na cidadezinha de Cordisburgo em 1908, Minas Gerais. E desde menino foi um exímio observador do falar, do viver, da prosa sertaneja dos Gerais. Depois estudou pra ser médico. E foi ser médico na vida. Tempo depois, desejou e transfigurou-se em diplomata, novelista, contista, romancista e finalmente consagrado o maior escritor brasileiro do século vinte.
É que ele sempre acreditou no destino, pois o misticismo o norteava. “A gente quer passar um rio a nado, e passa;” - ele escreveu –“mas vai na outra banda e num ponto mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou.”
Para criar Grande Sertão viajou a cavalo com os tropeiros pelo sertão na confluência ilimitada de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Ciceroneado pelo mítico vaqueiro Manuelzão (no livro Manuelzão e Migulim, vemos ele contar esta história de amizade, onde retrata a aventura do vaqueiro e parte sua própria façanha de menino), anotou em detalhes o que viu e ouviu nas suas incursões, nas travessias de boiadas. Com este material em mãos, envergando um invencionismo invejável, criou uma obra universal. Criou a figura do jagunço Riobaldo e sua grande paixão secreta Reinaldo, aliás Diadorim, que “não ousava dizer seu nome”, uma epopeia digna das lendas da guerra do Peloponeso.
Grande Sertão: veredas – pois no meio daquele bando de jagunços errantes a religião era o mantra constante: “todo o mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião; para desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura...Muita religião seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião.”
Rosa era um exímio dono da prosa, pois retratava com esmero a oralidade do mestiço, do povo brasileiro, do sertanejo e no bojo desse saber oral as referências incessantes da mitologia grega. Diadorim sempre dizia que não tinha mãe: “ele tinha uma luz, rei da natureza”. E Riobaldo, o chefe, o protagonista, não tinha pai, tinha mãe. E todos os jagunços subordinados pareciam acreditar nisso.
Ali no sertão, enfim, todas as manifestações da alma humana, o ciúme de Otacília, o desejo de vingança de Diadorim, a inveja de Zé Bebelo, Habão, a frequente exposição do bem e do mal, as indagações sobre a existência de Deus e o diabo e o enigma da morte. Consequência, na travessia deste livro tão longo, um Rio São Francisco, me senti inextricavelmente incansável de tantas histórias cativantes de seres indomáveis, porém verdadeiros. Vi-me no meio de guerras entre bandos de jagunços destemidos, catrumanos. Vi a acusação e defesa de Zé Bebelo como a justiça divina redentora. Vi o pacto duvidoso faustiano de Riobaldo, um Mefistófeles irrealizado. “..o Diabo na rua, no meio do redemunho...?”
E eu vi a batalha final de vingança e morte. E assisti a epifania. Diadorim, deusa enigmática, revelada como Joana D’Arc liderando o ataque e a libertação de Orleans. Eu vi o vento parar e fixar o olhar exasperado e distante de Riobaldo sobre o corpo inerte e revelado de Diadorim, como o imperador Adriano diante do corpo estendido de Antínoo às margens do rio Nilo.
O rio está simbolicamente sempre presente na obra de Guimarães Rosa. Voltei esses dias ao seu livro de contos “Primeiras Estórias” de 1962. Escolhi para reler o fabuloso conto, talvez o mais bem estruturado, “A terceira margem do rio” . Neste, o pai decide abandonar a família. Encomenda a construção de uma canoa. E inicia a travessia do rio, a vida, a sua existência de homem calado, nem alegre nem triste, “ não mais estúrdio (...) do que os outros”. O narrador, o filho e menino ainda, vai contando toda a história de abandono. Por que o pai partiu naquele rio infindável, enfrentar o sofrimento da vida como uma catarse? O filho implora ao pai, pois sente que o abandono será atroz. Pede pra ir junto. O pai é renitente. Ele quer insistente e tenazmente trilhar a terceira margem da vida. A mãe é incisiva, forte, lança mão de sua mão matriarcal. “Cê vai, ocê fique, você nunca volte!”. Mas o pai há de cumprir ao que se destina. E então ele parte sem remorso.
E a partir daquele dia o desenrolar, o crescimento, as idas e vindas daquela família saudosa na beira da margem do rio...
A prosa rosiana tornou-se universal. Foi traduzido em várias línguas. Como James Joyce do também universal Ulisses (e do hermético Finnegans Wake), Guimarães Rosa criou, inovou a linguagem da prosa regionalista. Como brandiu a Língua do poeta: “se a rosa é uma rosa/então o Rosa é uma prosa, é uma prosa...”
João Guimarães Rosa morreu três dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Por ser extremamente supersticioso adiara por quatro anos a cerimônia de entrada definitiva na Academia. Morreu aos 59 anos no dia 19 de novembro de 1967, um domingo, no auge de sua produção literária. Um mistério...??? Talvez Goethe explicasse!
A morte repentina de Joãozito - da infância - tanto consternou a intelectualidade da época que três dias depois Nelson Rodrigues escreveu uma crônica revelando publicamente a inveja incomodativa que possuía da estilística rosiana. Pirâmides e Biscoitos: - confessa já no final da crônica que “Guimarães Rosa devia chamar-se apenas e para sempre, Guimarães Rosa. O João não devia estar no cartão de visitas. Lembro-me de que no sábado, véspera da morte, fui à casa de Hélio Pellegrino. E tivemos uma conversa obsessiva sobre o Grande Sertão e seu autor. – ‘Falo com o Callado para promover um almoço com o Guimarães Rosa. Você topa? Claro, claro. Coisa curiosa. O Hélio é um admirador nato. Quando não tem quem admirar, sente-se um frustrado e um vencido. Todavia o seu juízo sobre Guimarães Rosa não era um juízo final, mas um ponto de interrogação. Admitia que Grande Sertão fosse um esmagador monumento estilístico” (...) “Minha mulher , Lúcia, só dorme depois que chego. Veio abrir a porta dos fundos. Beijo-a de passagem. Ela já sabe, mas ainda não me diz nada. Bebi o leite gelado e parti para a sala. Foi aí que Lúcia começou – Que coisa horrível aconteceu com o Guimarães Rosa.! Eu desfazia o nó da gravata e parei. – Que foi? E ela: Não sabia? Morreu... Ainda perguntei: Desastre? Disse: enfarte. Fiquei rodando pela sala, eu tivera com a notícia duas reações: primeiro, de pusilanimidade. O enfarte alheio é uma ameaça para qualquer um. A nossa saúde cardíaca é um eterno mistério, um eterno suspense. Depois do medo, veio algo pior e mais vil: uma espécie de SATISFAÇÃO, de euforia. Ninguém me via, só eu me via. Vim para a janela olhar a noite. Cada um de nós tem o seu momento de pulha. Naquele instante me senti um límpido translúcido canalha.”
Tempos depois, Nelson Rodrigues explicou a inveja de Guimarães Rosa: “Vivo, ele nos agredia e humilhava com sua monumental presença literária.”
No entanto, no jogo inconfundível de contrapesos da vida, naquele mesmo terceiro dia após a morte do amigo, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu em sua coluna no Correio da Manhã o poema emocionante “Um Chamado João: João era fabulista? Fabuloso? Fábula?/ João era tudo? Tudo escondido, florindo como flor é flor, mesmo não sendo semeada. E ficamos sem saber o que era João e se João existiu de se pegar. (...) Era mesmo de prosa ou poesia?”
O certo é que, como na tragédia grega, Guimarães tentou adiar, furtar-se ao seu destino, porém um raio ligeiro, límpido e fulminante o atingiu naquela noite de primavera do Rio...Rio de Janeiro.